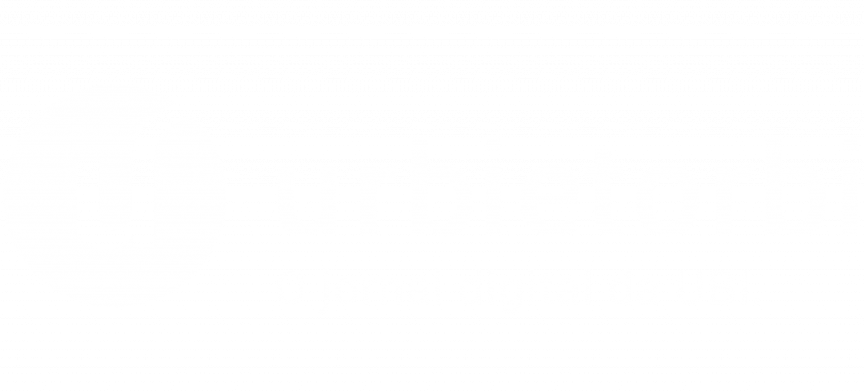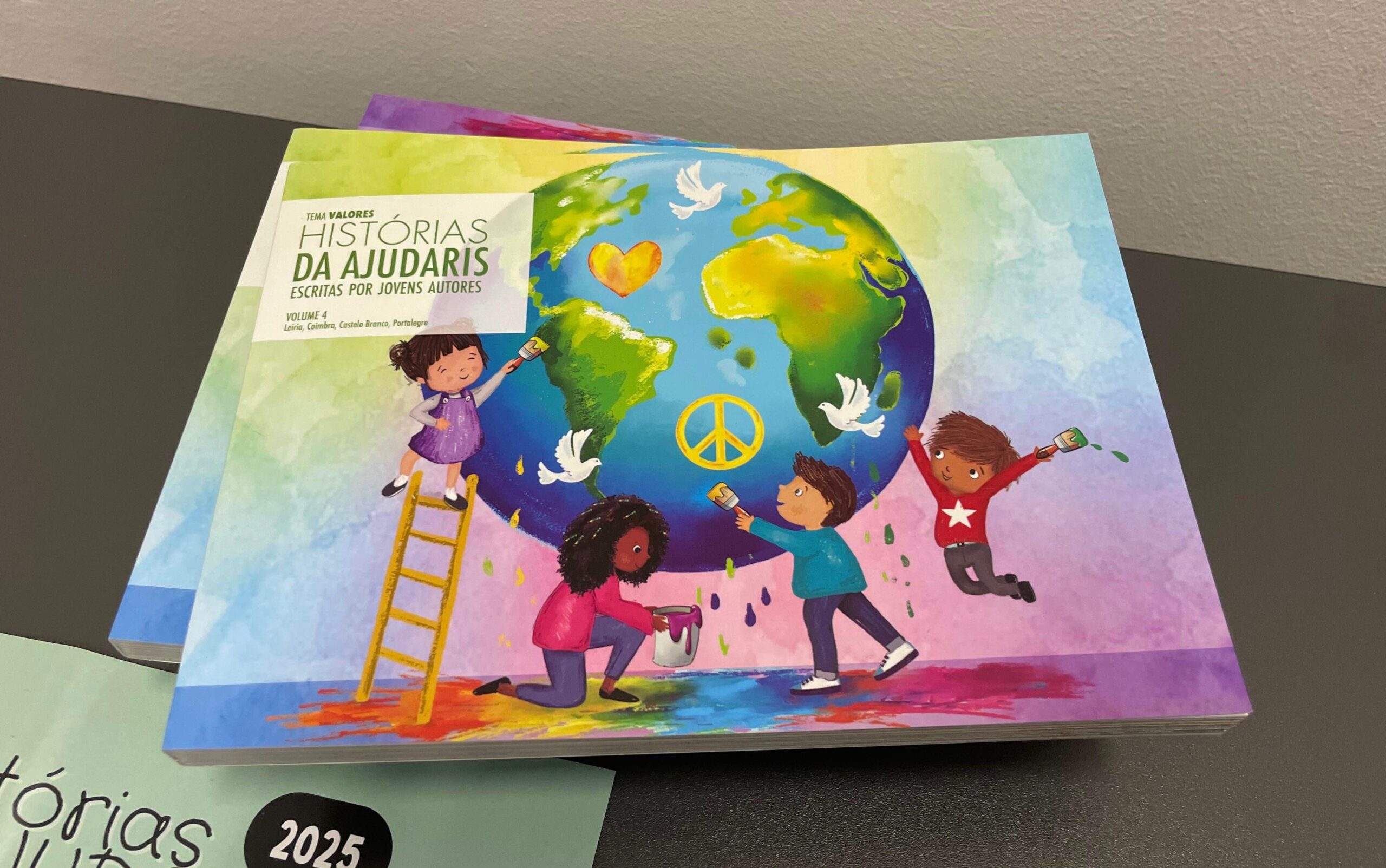Como é que se cruzou com Zeca Afonso na vida?
Eu já o conhecia, através das músicas, desde 1963. Quando estava no Seminário, um dia, um padre bate-me à porta e leva-me um disco pequenino e disse: “Olha, tu que gostas de música. Gostas de cantar. Vais ouvir este disco e vais gostar, de certeza.” Era um disco do Zeca, um EP, como se dizia na altura, com duas músicas de cada lado. E, de um lado, tinha “Os Vampiros” e, do outro lado, tinha “O Menino de Bairro Negro”. Para mim, aquilo foi uma revolução autêntica. Como eu gostava de cantar como este homem canta. Letra, voz, tudo! Mas o padre acrescentou uma coisa curiosa, diz assim: “Mas ouves baixinho”. Porque era sabido, como se confirmou mais tarde, que até no Seminário havia informadores. De maneira que, com medo de que eu dissesse que tinha ouvido o disco do Zeca e alguém ligado à informação da PIDE fosse denunciar, a mim e ao padre que me tinha emprestado ele, eu ouvi baixinho, obviamente.
Ainda hoje essas músicas o arrepiam? Têm o mesmo impacto em si?
Essa arrepiou-me porque foi a primeiríssima que eu ouvi do Zeca. Uma componente social fortíssima, não é? Uma esperança simultânea. “Um dia hás-de aprender, haja o que houver”, diz o Zeca.
“Os Vampiros”, sim. Abriu-me os olhos para uma realidade que nós vivíamos em Portugal, que era de gente a viver à custa dos outros. E, sobretudo, também, a Guerra Colonial. Então, foi para mim uma machadada muito forte na minha consciência ter ouvido o Zeca cantar: “Eles comem tudo e não deixam nada”. Foi o que me levou também a perceber que, na sociedade em que nós vivemos, há sempre exploradores e explorados.
Portanto, hoje, por exemplo, há um repertório que eu, às vezes, canto com outros amigos, que me toca muito. Não me canso de ouvir o Zeca e de me recordar dele e da fraternidade que ele transmitia, que ele transpirava por todos os poros. A solidariedade, a simplicidade. Ao mesmo tempo, era um tipo que não se metia em bicos dos pés, em lado nenhum, que dizia sempre que, para ele, o mais importante das músicas é o convívio com as pessoas, até às vezes mais importante do que o palco, é o convívio que se segue aos espetáculos. E às vezes também sinto muito isso. Aquela troca de impressões é muito mais sensível, toca-nos muito mais do que propriamente quando estamos a cantar, sem saber se aquilo que estamos a cantar influi ou tem importância nas pessoas que estão a ouvir.
Os mais jovens conhecem a voz do Zeca Afonso, que enche todos os 25 de abril, mas para si, que foi amigo e admirador, qual é aquela memória que lhe vem logo à cabeça quando houve alguém mais jovem a falar do Zeca?
Comove-me muito. Porque sinto que a figura dele marcou muita gente e continua a marcar. Tanto quanto a mim depender, ao falar do Zeca, o que eu pretendo é que, efetivamente, algo fique no coração das pessoas e manter vivas as memórias de um homem. Falar de um homem, de um amigo muito grande que eu tive, um dos maiores amigos que eu tive na minha vida, e que pôs toda a sua arte ao serviço da cidadania.
Era uma pessoa para quem o mais importante era pôr no coração das pessoas um desejo muito grande de liberdade e de justiça e de solidariedade e de tranquilidade e de empenho, de amizade. Era o que marcava a vida dele, de princípio até ao fim. E isso é o que mais me impressiona, é o que mais me toca, por isso é.… olha, não sei… é assim.
Ainda se comove a falar de Zeca e conhecendo-o, como conheceu, acha que ele alguma vez pensou que, passados 50 anos, ainda ia ser visto como um rosto da liberdade, um rosto de lutar por aquilo em que se acredita?
Dá-me a ideia de que ele, quando se manifestava, quando cantava, quando convivia, não estava a pensar: “Eu agora estou a fazer o máximo possível para que daqui a 50 anos as pessoas se lembrem de mim.” Não, quer dizer, era uma espontaneidade e uma originalidade absolutamente sem outros objetivos finais, que não fossem o contacto permanente com as pessoas e, do ponto de vista político, disseminar ou espalhar o desassossego. Como ele dizia, a inquietação. A inquietação e o desassossego. Agitar as pessoas, agitar a malta. Não deixar o pessoal adormecer, sabendo que não podemos cruzar os braços para tanta coisa que há para fazer na vida, não é? Isso era o que o marcava definitivamente.
Tem a sua voz e passos emprestados numa das senhas da revolução. Como foi essa gravação longe de Portugal?
Em 1971, outubro e novembro, eu estava em França e o Zé Mário [José Mário Branco], diz-me: “Pá, vens aqui dar uma colaboração na gravação do disco Cantigas do Maio?”. E assim foi. Foram 15 dias de grande convívio e de grande emoção de ver o Zé, todo entusiasmado, a cantar as coisas.
O Zé Mário tinha estado no Alentejo, em Peroguarda, e tinha a imagem dos alentejanos a cantar rua abaixo, mesmo depois do dia de trabalho em direção à taberna, beber um copo. Mas iam cantando e eu disse: “Não, esta música da Grândola tem um fundo alentejano, não é? É que há aqui um ritmo alentejano. Nós temos de reproduzir um pouco o que se passa quando os homens vão pela rua abaixo a cantar.” E assim foi.
Nenhum de nós imaginava que, dois anos e meio depois, teria a música escolhida para o último sinal do 25 de Abril. E foi uma alegria muito grande. Nenhum de nós imaginava. É claro, quando me recordo, não tenho mérito nenhum nisso. Foi uma casualidade, mas sinto uma alegria muito grande por saber que quando a tropa avança, são também os meus passos, a minha voz, além dos outros companheiros que já morreram.

(Fotografia de Patrick Ullmann/ Associação José Afonso)
Fala desse ambiente de fraternidade dentro do estúdio. Quando estavam nesses momentos, e fora de Portugal, conseguiam sentir-se longe do regime, deixar essas amálgamas todas para trás, livres?
Era um momento de descontração, efetivamente. Nunca esquecemos que a situação em Portugal nos afetava muito. Por essa razão, por exemplo, é que eu estava fora, o Zé Mário também. Era um alívio, não tínhamos receio de que a PIDE nos viesse à procura. Por mais que nós sentíssemos essa vontade, essa descontração, esse respirar fundo, não nos esquecíamos nunca de que era em Portugal que era o nosso trabalho, e era para aí que nós tínhamos de voltar. E era aí que eu intentava fazer qualquer coisa para transformar o nosso país numa terra onde cada vez valha mais a pena viver, que continua a ser, mesmo hoje, 50 anos depois, o objetivo que me impulsiona e que me faz não desistir. É tentar, na medida do possível, fazer com que desperte em alguém a vontade de fazer de Portugal um país cada vez melhor.
Depois da sua participação no Zip-Zip em 69 encontrou várias adversidades, como ter de abandonar a sua posição como professor de religião e moral, mas também passou a integrar o grupo dos cantores. Do que é que se recorda das suas idas a cantar pelo país?
No Entroncamento, uma vez, estava eu a jantar em casa do prior e bateu à porta o o sargento da guarda que disse: “É só para dizer que o senhor está proibido de cantar.” Eu? Proibido de cantar? Eu não sabia de nada.
O meu pai tinha sido médico no Entroncamento e tinha deixado uma memória muito agradável lá e eles até me disseram: “Eu tenho muito respeito pela memória do seu paizinho, mas não o posso deixar cantar. As ordens que eu tenho é para o prender se o senhor cantar”.
Acabamos de jantar, fomos para lá e então as pessoas entraram. Aquilo encheu. Eram 100 pessoas, não podiam ser mais de 100 pessoas para não ser considerado um espetáculo público. Entrou lá o sargento também. O Carlos Lionel (o prior) disse assim: “Meus amigos, está aqui o Fanhais para cantar, mas está aqui o sargento para o proibir de cantar”.
Bem, eu não posso cantar, mas as pessoas que estão aqui, não estão privadas de cantar, e então disse: “Se eu fosse cantar… eu cantava uma coisa que diz assim: Cortaram as asas ao rouxinol. O rouxinol sem asas não pode voar. Lembram-se?” Começa o pessoal todo, a cantar “Cortaram as asas ao rouxinol”.
O sargento estava ali ao lado, envergonhadíssimo, coitado, mas eu não cantei, correu tudo bem. Cada um cumpriu os seus papéis, mas o resultado foi muito mais forte, evidentemente, do que se eu tivesse cantado.
Porque é que acha que havia mais esse medo de as pessoas começarem a cantar do que com o declamar um poema? Era a melodia? Era as pessoas decorarem pelo som da música?
Era muitas vezes, se calhar, a hipótese de uma música ter um coro. Ter uma parte, que era o estribilho, para todos cantarem e as pessoas começarem a cantar aos berros, não é? Era muito mais significativo, impactante, digamos assim.
Quando às vezes cantamos, ou quando dizemos, ou quando lutamos por uma causa que vale a pena lutar, pergunta-mos-nos a nós próprios: eu estou aqui, sim, a lutar por esta causa. Estou aqui a contribuir, a tentar contribuir com o meu esforço, com a minha boa vontade, enfim, com o meu tijolo, a pôr o meu tijolo na parede. Cada um põe lá o seu tijolo.
Às vezes desanimamos. Ando aqui a cantar e será que isto rende alguma coisa? Será que as coisas se transformam, não é? E estava mesmo a pensar tudo isto e veio-me à mão aquele poema do Manuel Alegre que diz: “Cantar, não é talvez suficiente”. Se cada um não faz aquilo que tem de fazer, a parede fica com buracos. Às vezes eu fico a cantar, olha, na esperança de que eu toque os sinos que cada homem tem no coração. É um bocado esse o objetivo.
Mas alguma vez sentiu medo? Alguma vez pensou, desta vez é que não há volta a dar?
Enquanto fosse só cantar, não havia problemas. Uma vez estava a cantar no Porto. Só estava a cantar aquilo que a censura tinha deixado passar. E às tantas eu cantei aquilo que estava censurado. No intervalo, já no fim de ter cantado, veio um tipo lá da censura a ter comigo e disse: “O senhor cantou coisas que eu não autorizei a cantar.” Eu disse: “Não, senhor, o senhor deve estar enganado”. “Mas então cantou uma coisa que falava da paz e não sei quanto”, disse-me ele. Eu sabia muito bem que tinha cantado isso. “Ah, é verdade, tem toda a razão. Ah, cantei isso. Ah, sim, senhor. Olhe, tem toda a razão, mas eu comecei a cantar e as pessoas pediam para cantar aquela da paz e eu, entre a previsão sua e o pedido das pessoas, eu não hesitei”. À frente, e em primeiro lugar, vem o pedido das pessoas. E por isso é que eu cantei aquela. O pessoal da comissão de estudantes, que tinha organizado a sessão, continuou a discutir com ele e pegaram assim em mim devagarinho para puxar-me, assim por baixo da coisa. Eles continuaram a discutir e eu pirei-me.
Já falou sobre o episódio das paredes de seminário terem ouvidos, mas havia essa noção de coexistência entre o regime e Igreja?
Já havia, de trás. O Salazar tinha sido companheiro de estudos com o cardeal Cerejeira. Portanto, aquilo tinha mantido cumplicidade, causando uma certa dificuldade em entrarem em conflito um com o outro.
O episódio conhecido do dia um de janeiro de 1969, em que houve uma vigília na Igreja de São Domingos pelo Dia Mundial da Paz, presidida pelo cardeal Cerejeira, com presença de outros ligados às estruturas militares e ao governo.
Para o escândalo de muitos de nós que lá estávamos, num país em guerra, que já durava há 7 anos, não houve a mínima referência, numa vigília pela paz, à guerra colonial. Não levámos isso a bem. Um grupo, às tantas, foi à sacristia, falar com o cardeal Cerejeira, dizer-lhe: “Nós, agora, vamos continuar a vigília à nossa maneira. Vamos continuar a vigília falando da paz.”
Estivemos até às cinco da manhã, na Igreja de São Domingos, a falar, a trocar impressões, cantando, lendo passagens da Bíblia, rezando, lendo cartas de pessoas que estavam na guerra, portanto testemunhos em primeira mão, e tudo isso fez com que estivéssemos ali até às cinco da manhã a celebrar a paz.
Ampliou-se, cada vez mais, o movimento dentro da Igreja, em relação à denúncia, a não aceitarmos a cumplicidade perfeitamente inaceitável e a cobardia e o silêncio cúmplice da Igreja em relação ao que se passava, e à situação política que era a guerra colonial. Mas nunca se ouviu, por parte da Igreja, uma intervenção oficial a denunciar a guerra colonial ou a denunciar a falta de liberdade em Portugal, fascismo, ditadura, presos políticos, torturas, assassinatos, nada disso. Tudo isso fez com que muitos de nós disséssemos: “Não, estamos a lutar dentro da Igreja pela transformação da Igreja”. É como querer destruir à castrada uma parede de cimento. A parede não sai de lá e nós ficamos todos com a cabeça partida. Então, por uma questão de sobrevivência, muitos de nós deixámos de pertencer à igreja oficial, digamos assim, separámos-mos da igreja hierárquica.
Vamos perdendo vozes, como a Celeste dos Cravos ou o Almirante Contreiras. Como é que se mantém viva, sem estas pessoas, a memória da luta?
Continuam entre nós. De facto, são pessoas que nos iluminam, que nos dão força para nós não desanimarmos. Eu quando penso no Zeca, por exemplo, não penso: “Epá, pronto, agora estou desejoso chegar ao pé de ti. Estou desejoso de encontrar-me contigo outra vez.” E agora não faço mais nada, enquanto não morrer, não faço mais nada, pronto. Não, é o contrário. Para mim, são pessoas que pela sua vida estimularam, que foram exemplos de dignificação, pessoas de verticalidade, pessoas de solidariedade absoluta, pessoas de luta, e são eles que nos dão exemplo, e é por eles que nós queremos continuar. É como numa corrida de estafetas. Toma lá tu e corre agora.
Estamos sempre a receber de gente que já lá está, que se foi embora, que partiu, estamos sempre a receber o testemunho, e agora nós ou pegamos no testemunho ou mandamos para a valeta. Pega nele e diz: “Olha, está-me a arder aqui as mãos, está a dar-me força para eu continuar.”
É isso que me faz não desanimar, que me faz não desistir e dizer: “Já chega, agora estou satisfeito.” Não, quer dizer, sempre que eu vou, às escolas falar para a malta nova de tudo o que se passou e eu vivi, significa também uma coisa que é coletiva, que é um viver coletivo, não fui eu sozinho a cantar, tantos colegas meus cantaram. Não sou eu sozinho a ir à escola, há tanta gente que vai às escolas para falar à malta nova. Não, eu sou, digamos, uma pedrinha com tantos outros que me ajudaram.
Nós enquanto país estamos a honrar aquilo que foi feito com o 25 de Abril? Ou ainda há blocos para colocar na parede como estava a dizer?
Antes do 25 de Abril, nós estávamos todos, se calhar, muito mais juntos. O inimigo era comum e era só um. Era a guerra colonial, era o fascismo, a ditadura, etc. E havia uma grande unidade entre toda a oposição em Portugal para lutar contra isto, para acabar com esta situação. Depois do 25 de Abril, houve uma certa dispersão. Aquela união que havia antes do 25 de abril em toda a oposição desfez-se porque cada um tratou de, digamos, fazer vingar mais as suas ideias, os seus objetivos, as suas programações.
Isso motiva, normalmente, a democracia. A aceitação e a participação de muito mais gente vinda de muitos horizontes, mas não deixa de ser importante, fundamental até, que isto seja como que uma orquestra em que cada um toca a sua música, o seu instrumento, mas todos, sem perder nunca de vista que o objetivo é a democracia. E há sempre gente que desafina nesta orquestra.
O fundamental é que cada um não perca de vista, que é preciso que todos contribuam, cada um na sua parte que lhe toca, para a construção deste muro. Pôr lá o seu tijolo e não destruir, e não tirar tijolos onde outros tiveram tanto trabalho a pôr.