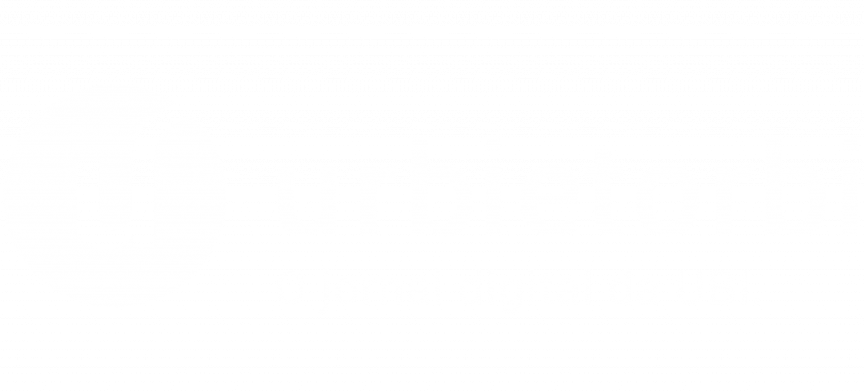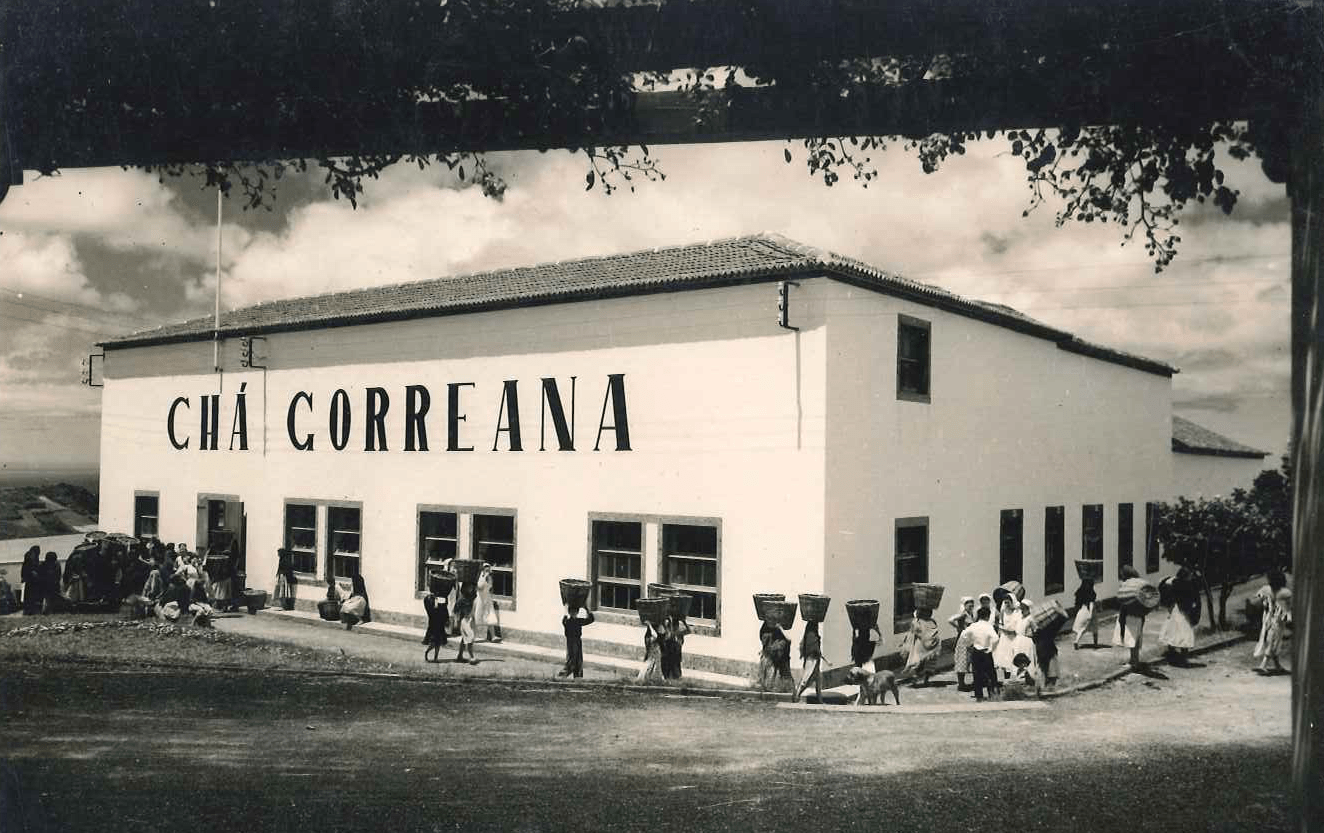Angola entra na vida desta família muito antes de entrar em guerra. A história de quem vamos chamar de Luandina d’Ocavango Eça começou em São Tomé e Príncipe nos anos 50. Era ainda um território colonial onde a escravatura tinha sido oficialmente abolida, mas o sistema das roças mantinha uma lógica de trabalho forçado, de violência e de medo.

Em 1953, o Massacre de Batepá marca um ponto sem retorno. Sob o pretexto de reprimir uma alegada conspiração, a administração colonial portuguesa desencadeia uma vaga de detenções, espancamentos e assassinatos contra a população local. O objetivo era disciplinar, através do terror, uma sociedade que começava a dar sinais de resistência. É neste clima que o avô de Luandina, filho de um colono branco e de uma mulher negra de São Tomé, decide fugir.
“Em São Tomé, a escravatura acabou no papel, mas na vida real continuava tudo igual”.
Depois de Batepá, qualquer pessoa com alguma autonomia podia ser acusada de conspiração. O avô refugia-se no norte de Angola, numa região agrícola próxima de Negage, então Carmona, onde constrói uma vida relativamente estável, com plantações de banana e uma pequena empresa de transportes. O avô de Luandina morre ainda antes do início da guerra colonial, no final dos anos 50, ficando o filho, pai de Luandina, responsável pela família.

Em 1961, Angola deixa de ser um território sob tensão para se tornar um espaço de guerra aberta. A 4 de fevereiro, em Luanda, são atacadas as cadeias de São Paulo, numa tentativa de libertar presos políticos. Em março, no norte do país, a União dos Povos de Angola (UPA) lançou ataques armados em várias localidades atingindo colonos, administrações e símbolos do poder português. O regime respondeu com bombardeamentos, massacres e punições coletivas que atingiram indiscriminadamente a população africana.
“De um dia para o outro, aquilo deixou de ser a terra onde se vivia. Passou a ser uma terra onde se fugia”
O pai de Luandina, com apenas 17 anos, encontrou-se numa posição particularmente vulnerável. Negro, alfabetizado e proprietário, pertencia à categoria dos assimilados — um estatuto colonial que prometia direitos, mas que na prática não protegia do racismo. Como muitos outros, juntou-se às milícias organizadas pelo Exército Português. “Ele não se juntou por acreditar em Portugal. Juntou-se porque era isso ou morrer. Se não estivesses de um lado, eras automaticamente do outro.”

A guerra propagou-se rapidamente e entre rivalidades locais, desconfianças e lógicas de vingança constante, muitos nativos proprietários tornaram-se alvo não apenas dos movimentos independentistas, mas também do próprio poder colonial. O pai de Luandina escapa por pouco a uma emboscada numa estrada, tendo sido salvo pela intervenção de um colono branco recém-chegado da metrópole. “Foi um branco que o salvou. Disse: ‘Esse homem não fez nada’. E isso bastou”. Pouco depois, recebeu um aviso direto de que ia ser morto, então decidiu fugir nessa mesma noite.
Percorreu centenas de quilómetros até Luanda e entregou à Fazenda Pública — a gestão das finanças públicas e do património do Estado — um autocarro novo que ainda estava por pagar, numa tentativa desesperada de provar lealdade ao Estado colonial. Mas não resultou. Sem trabalho e sem proteção, passa muita fome e desmaia nas ruas da capital. “Ele desmaiou de fone. Foi parar ao Hospital de São Paulo. Quando lhe deram comida, fugiu. Achava que a PIDE o ia apanhar.”
A PIDE operava em Angola com poderes quase absolutos, e para o pai de Luandina o medo era constante. Com a ajuda de familiares foge para São Tomé onde se esconde numa roça. Só regressa a Angola cerca de um ano depois, quando a pressão internacional pela autodeterminação começa a fazer efeito. A condenação do colonialismo nas Nações Unidas, a independência de vários países africanos, e os protestos dos movimentos afro-americanos nos Estados Unidos, obrigam Portugal a moderar a violência visível.
Quando regressa, encontra os seus autocarros integrados numa grande empresa de transportes. Nunca recebeu qualquer indemnização.
É neste contexto que em 1965 Luandina nasceu em Luanda, numa sociedade rigidamente hierarquizada pela cor da pele. Apesar do estatuto de “moço”, atribuído sobretudo a santomenses e cabo-verdianos, o pai vivia sob as regras do racismo colonial. “Ele tinha de sair do passeio quando um branco vinha, mesmo sendo assimilado.” Luandina, apesar de ter morado em bairros maioritariamente de brancos e frequentado colégios privados, nunca conheceu a integração. A discriminação manifestava-se de forma crua no dia a dia.
“Havia crianças que não me davam a mão porque eu era preta”
Em 1974 dá-se o golpe militar que derrubou a ditadura e acelerou o colapso do Império. Em Angola, instalou-se um Governo de Transição que integrou o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), a Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA), e a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA). O estado colonial desmantelou-se rapidamente e milhares de portugueses abandonaram o território em poucos meses. As escolas fecharam, os hospitais ficaram sem médicos e os serviços públicos deixaram de funcionar. “Os professores desapareceram, os médicos desapareceram, de repente não havia ninguém.”

Luandina entra para a Escola 8 e a linguagem muda, as relações mudam, e a ideologia ocupa o vazio deixado pelo Estado. “Já não éramos alunos, éramos camaradas”. O marxismo-leninismo foi introduzido como um projeto total de sociedade e, para uma criança, transforma-se numa identidade.
“Para mim, aquilo não era política. Era a vida.”
Em 1975, a transição transformou-se numa guerra civil aberta, rapidamente internacionalizada. A FNLA avançou pelo norte com o apoio do Zaire (atual República Democrática do Congo) e de mercenários estrangeiros. A UNITA entrou pelo sul, apoiada pela África do Sul do apartheid. Luanda ficou cercada. A cidade vive entre bombardeamentos, apagões e escassez de tudo. “Havia dias sem água. A rádio alertava para não bebermos a água do rio porque havia cadáveres lá. Bebíamos água de uns tanques do cemitério”. A economia colapsou e a sobrevivência passou a fazer-se através de troca direta. “O meu pai arranjava um litro de óleo e dividia em frascos. Depois trocava o óleo por ovos e outras coisas. E era assim que comíamos. Tudo era troca.”
Luanda resistiu graças aos navios que chegavam ao porto. Em novembro de 1975, a intervenção militar cubana ajudou Angola, enviando aviões de grande porte com milhares de soldados. “Quando os cubanos chegaram sentiu-se, porque sem eles, o MPLA não tinha aguentado”.
Em 1979, Luandina chega a Portugal. O choque foi imediato ao ver na televisão portuguesa críticas ao marxismo. “Para mim, aquilo era quem eu era”.
A exclusão também acontecia em Portugal e Luandina guarda o seguinte episódio com uma nitidez quase intacta. O grupo de amigos com quem brincava desde que tinha chegado de Angola, as únicas pessoas que conhecia naquela altura, um dia disseram-lhe: “Olha, agora não podes ir connosco para a escola porque és preta.” Propuseram-lhe uma solução com medo de serem ridicularizados. “Vais tu à frente e entras, porque nós não podemos ser vistos contigo, porque senão vamos ser gozados.” O impacto foi imediato, não apenas pela rejeição, mas pela forma como a situação a fez regressar às experiências anteriores. “Isso remeteu-me outra vez para o passado do colégio”, disse Luandina. Ainda assim, não reagiu com confronto. “Eu tentei perceber como é que podia fazer, porque também eram as únicas pessoas que eu conhecia.” E assim aprendeu a adaptar-se.
“As minhas memórias mais nítidas estão todas em Angola. Todos os dias estou lá”. O presente liga-se ao passado, não por nostalgia, mas por ser uma referência fundadora dela própria. A sua infância não foi apenas num país em guerra. Foi também num sítio onde um Império se desfez sobre a vida das pessoas e onde a identidade de Luandina se formou. É essa experiência que atravessou a escola, os amigos e a integração em Portugal, ligando o quotidiano a memórias que a marcaram para sempre.